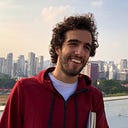A vitória de Joe Biden
Dias atrás, um amigo me indagou “pq a eleição para presidente dos EUA é mt importante se o país é tão federalista?”. Estranhei a perguntas mas ela é boa, afinal, a Constituição americana delimita as competências do governo federal basicamente em torno de três temas: defesa nacional, política monetária e relações exteriores. Minha primeira reação foi dizer-lhe que, bom, nem parece muita coisa, mas se tratando da maior potência global, é. Em seguida, lembrei-o que nos últimos anos — na esteira de eventos como o atentado de 11/09, a crise de 2008 e agora a pandemia — o governo federal se envolveu crescentemente em atribuições relativas aos estados (como segurança, saúde e desenolvimento econômico), empoderando a posição do presidente. Por fim, o óbvio: os eleitores enfim decidiriam pela continuidade, ou não, do governo de Donald Trump. Acho que o convenci… ontem ele me mandou uma mensagem acompanhando a apuração.
Esse caráter plebiscitário da eleição em torno de Donald Trump explica por que, ao menos à primeira vista, a vitória de Joe Biden é obra direta dos tropeços do seu adversário. A economia não estava mal, é verdade, mas a pandemia evidenciou a fragilidade do projeto político que corria em paralelo ao crescimento econômico. É que o aumento do consumo dos americanos não foi acompanhado pela mesma melhora da desigualdade ou dos serviços públicos, daí a insatisfação que já tinha ficado clara na mid-term elections de 2018 em que os democratas conquistaram a maioria da Câmara com um discurso fortemente baseado na expansão da saúde pública. Desta vez, ao contrário da última eleição em que muitos trabalhadores sem formação superior aderiram ao projeto de Trump porque se viram “deixados para trás” pelo avanço cultural, os americanos se sentiram “deixados para trás” pelo Estado incapaz de coletivizar os riscos sociais.
Isso, no entanto, não resume a história inteira. A vitória dos democratas também diz respeito aos acertos da campanha de Joe Biden e Kamala Harris que interpretaram o cansaço dos americanos em relação ao negacionismo de Trump, assim como a agenda política ressaltada pela pandemia. Para além da autofagia trumpista, portanto, estão os acertos de Joe Biden e Kamala Harris.
Durante as primárias dos Democratas, eu mesmo defendi que Bernie Sanders seria a melhor opção pela sua capacidade de mobilizar uma utopia à altura da performance digna de reality show de Trump. Minha expectativa era de que teríamos uma eleição mega-polarizada em que o populismo de esquerda de Sanders — “nós” contra “eles”, “povo” contra “elites” — eram formas de identificação coletiva que mobilizariam os americanos contra Trump e os interesses privilegiados durante o seu governo. A pandemia, por sua vez, representou um verdadeiro corte na continuidade do nosso tempo político: a ética do confronto perdeu o apelo emocional à medida que a pandemia consolidou o desejo de retorno aos esteios da previsiblidade, segurança e moderação. Justamente os traços que melhor caracterizam não só a figura centrista e pragmática de Joe Biden — aquém da veemência de Sanders ou mesmo Hillary Clinton — mas a sua própria campanha que desde as primárias apostou “na ideia de que esta é uma luta pela reconciliação e pela alma da América”, como afirmou o cientista político Yascha Mounk.
A última década teria sido caracterizada pela ida aos extremos, dinâmica pela qual o centro político se dissolveu e a disputa entre o neoliberalismo conservador (Republicano) e o neoliberalismo progressista (Democratata) se revelou uma falsa polarização — porque uma disputa entre iguais — aos olhos dos eleitores. O Republicano, com efeito, guinou à direita a reboque da ascensão meteórica de Donald Trump, enquanto Hillary era, ainda, Clinton, uma veste antiquada para um momento histórico ávido por novidades. Já agora, ao contrário, a pandemia deflagrou o retorno ao centro — Make America Normal Again — pelo qual a moderação readquiriu o apelo emocional e Biden despontou como um elo possível de um país fraturado.
Para isso, foi efetivo o seu esforço de resgatar o que Trump roubara de Hillary na eleição passada: a imagem de homem comum, o Tio Joe, mais identificado com a sua origem na classe trabalhadora do que com Wall Street, alguém com empatia suficiente para olhar para a câmera durante os debates e compartilhar a dor dos americanos mortos pelo vírus. Nesse sentido, até mesmo a virulência de Trump contou a favor de Biden, já que seus ataques aos socialistas do Partido Democrata automaticamente empurraram Biden ao centro, além da sua própria fidelidade à extrema-direita dos Republicanos. Se é certo que movimentos nacionalistas, racistas e xenófobos acompanham os republicanos há algum tempo — especialmente depois do alinhamento racial e partidário ocorrido com o ingresso dos conservadores do sul no Partido Republicano durante os governos Nixon e Reagan — os efeitos colaterais da inédita aproximação entre o presidente e grupos como Proud Boys e QAnon dissuadiu eleitores moderados como os aposentados, a classe média alta dos subúrbios e os evangélicos.
A obsessão de Biden pelo “eleitor médio”, para o qual importava driblar a pecha de “socialista” que Trump tentara lhe impôr, explica o seu apoio a uma nova agenda ambiental sem taxá-la de Green New Deal. A defesa de uma revisão radical da inserção do negro na sociedade americana sem legitimar a violência dos protestos do Black Lives Matter. A promessa de expansão da saúde gratuita sem a reforma estrutural do Medicare for All. A associação ao multilateralismo sem maiores odes à globalização. Para além da defesa de programas nominalmente ligados à esquerda do seu partido, Biden tentou oferecer respostas aos problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia e, isso sim, sem abrir mão da experiência de quem já mostrou que sabe resolver problemas — no caso, os veteranos da administração de Bill Clinton e Barack Obama que estão na sua equipe e agregaram apoio à vitória de Biden em estados tradicionalmente democratas mas que votaram em Trump na última eleição como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin.
Para boa parte da esquerda dos Democratas, no entanto, isso não era mero pragmatismo de Biden para derrotar a Trump, e sim a expressão da sua verdadeira natureza: Tio Joe seria, nada mais nada menos, que o legítimo representante do status-quo anterior a Trump. É certo que essa desconfiança não arrefeceu, o que tampouco impediu a união do partido em torno de Biden e a campanha azul que transbordou o país. Para o sucesso da união, prevaleceram dois fatores estranhos ao modelo brasileiro: 1) um sistema bipartidário em função do qual as forças anti-Trump não se dispersaram em inúmeras candidaturas; 2) a realização de primárias que confere uma legitimidade ao vencedor, no caso, Biden, que também estabeleceu o diálogo necessário para aproximar os socialistas e os neoliberais progressistas que formam o partido e iniciaram o ano numa disputa fraticida que arriscava desestabilizar o partido. Foi assim que mesmo coletivos como o Socialistas Democráticos da América (DSA), que votou uma resolução “Bernie ou Nada” em 2019, acabou voltando atrás e cerrou fileiras contra mais um mandato de Trump.
O que ajudou nisso foi o choque na agenda pública, causado pela pandemia, pelo qual vários dos temas sociais, defendidos pelos socialistas durante as primárias, ganharam espaço no programa de Joe Biden. Em outras palavras: não é que Biden tenha deixado de ser centrista, é que o centro se deslocou e englobou propostas que tornaram o programa de Biden muito mais à esquerda do que era o de Hillary Clinton. Ou, se quiserem, tudo bem que Biden não se tornou uma Elizabeth Warren com uma reforma tributária escandinava ou um Bernie Sanders com um sistema de saúde tipo SUS, mas não deixa de ser a plataforma democrata mais progressista ao menos desde George Mcgovern (democrata derrotado por Nixon em 1972 com um programa que incluía até uma renda básica universal). Algumas das propostas incluídas por Biden envolvem o aumento do salário mínimo, a revogação do taxcut de Trump, o crédito mais barato para moradia, a redução das emissões de monóxido de carbono, a expansão do ensino superior gratuito e do Obamacare. Tudo isso sem abrir mão da manutenção dos programas mais de “esquerda” de Trump como o fortalecimento de cadeias produtivas internas e a recuperação do emprego, importantes para o convencimento do eleitorado do Rust Belt que desequilibrou a eleição.
A partir de então, a difícil tarefa da left-wing dos democratas (Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Bernie Sanders) será pressionar Biden para que cumpra a agenda prometida, o que tudo indica que não será fácil. Por um lado, terão a resistência da maioria centrista do partido que são pouco flexíveis à expansão dos gastos, sobretudo porque os investimentos envolverão o endividamento público no curto prazo. Por outro lado, o Senado e a Suprema Corte, majoritariamente republicanos, ameaçam paralisar boa parte dessas ações. Se a missão de Cortez e Sanders é difícil, nem por isso pode ser deixada de lado já que disso depende um governo que não seja meramente normal, afinal, foram os 8 anos de normalidade de Obama desembocaram em Trump. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial que gerou uma tendência de longo prazo ao espírito de comunidade e nação, não há sinais de que os efeitos da pandemia que favoreceram Biden serão duradouros
O desempenho eleitoral do ex-presidente, superior ao que diziam as pesquisas, é a prova de que Trump foi derrotado, mas não o Trumpismo. O seu poder de mobilização às vésperas da eleição foi surpreendente e é a prova de que, enquanto o seu negacionismo diante do vírus pareceu cada vez mais patético a boa parte dos americanos, os seus seguidores interpretaram como uma demonstração de autenticidade e fidelidade ao projeto autoritário. Em outras palavras: Trump sai derrotado, mas não está morto, razão pela qual a centro-direita do seu partido dificilmente terá força para moderar a direita propriamente dita que ele representa. A batalha contra a extrema-direita não começou hoje, nem muito menos termina agora.