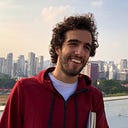As novidades são da esquerda, mas a vitória é da direita
Há quatros anos, o dia seguinte a eleição foi bem diferente. Os jornais elencavam os nomes recém-chegados ao poder e até então desconhecidos. Os analistas tentavam interpretar o discurso anti-establishment e conservador que elegeu os neófitos e, mal sabiam, elegeria o presidente dois anos depois. Já na eleição de ontem, não é que as coisas tenham ficado mais fáceis de entender, mas as surpresas foram, ao menos à primeira vista, menores.
Ali, em 2016, a desconfiança da população na classe política crescia desde Junho de 2013, passando pela Lava Jato até que desembocaria nas eleições municipais daquele ano. Foi assim que se abriu uma janela de oportunidades para outsiders como João Doria, Marcelo Crivella e Alexandre Kalil cujas campanhas os vendiam como arautos da nova política, sem escândalos de corrupção e críticos a ineficiência do poder público.
Desde então, no entanto, o efeito midiático da Lava Jato arrefeceu, a presidência Bolsonaro inspirou o sentimento anti-antissistema e a pandemia, por sua vez, reiterou a importância da atuação estatal face aos problemas sociais. Em lugar do ultraliberalismo do Novo ou o extremismo do PSL, os eleitores adotaram políticos com PhD em solucionar problemas de ordem prática. Basta ver que o ex-governador Amazonino Mendes (Manaus) e os ex-prefeitos Eduardo Paes (Rio de Janeiro), Edmilson Rodrigues (Belém) e Cícero Lucena (PSB) estão chegando ao segundo turno após liderarem no primeiro com campanhas fortemente baseadas nos feitos das suas antigas gestões. Na mesma linha dos atuais prefeitos já reeleitos no 1º turno, Alexandre Kalil (Belo Horizonte) e Gean Loureiro (Florianópolis), ambos tornados exemplos pela combate incisivo e eficaz a COVID.
É certo que o reposicionamento do social no centro da agenda política fornece alguma vantagem à esquerda, tomada como referência histórica em questões atinentes à pobreza, às deficiências do sistema de saúde e às carências habitacionais de água e saneamento. Provas disso seriam que o PSOL se tornou a maior bancada da Câmara do Rio de Janeiro e triplicou o número de vereadores em São Paulo, além do ótimo desempenho das lideranças sub-40 Guilherme Boulos (São Paulo), Manuela d’Ávila (Porto Alegre) e Marília Arraes (Recife). É mais certo, no entanto, que essas candidaturas se tornaram exemplos não só pelos novos ventos da política, mas porque fizeram autocrítica, aprimoraram o uso da internet e, acima de tudo, reinventaram a plataforma progressista em torno de três eixos: a) expansão da seguridade social; b) o combate ao racismo e machismo estruturais; c) as ações contra o colapso climático. Aprender com o sucesso dessas candidaturas, afinal, será o embrião da vitória 2022.
Tampouco isso quer dizer, no entanto, que a esquerda deve ser tida como a vitoriosa do domingo. À ela, melhor dizendo, coube as novidades mais instigantes dessa eleição — a criatividade da campanha de Boulos, as candidaturas coletivas, a poderosa ascensão de feministas, negros e trans — ao contrário dos pleitos anteriores em que as inovações pareciam concentradas no MBL ou redes bolsonaristas. Por outro lado, em termos numéricos, a esquerda terminará governando menos capitais do que na última eleição, quando esquerda venceu em sete capitais e agora está no 2° turno em apenas nove (a mesma piora ocorrendo em municípios menores). Destaco três razões que explicam o desempenho limitado da esquerda:
1) A tendência de reeleição: se a pandemia reprimiu o espírito antissistêmico de 2016, ao mesmo tempo garantiu uma solução de continuidade aos mandatários ali eleitos. O contexto emergencial estimulou a reeleição à medida que os atuais prefeitos se valeram, dentre outras coisas, da exposição midiática e da suspensão de travas da Lei de Responsabilidade Fiscal que proibiam gastos no final do mandato. Como a direita foi a grande vitoriosa em 2016, acabou se beneficiando disso, vide a reeleição em primeiro turno de seis candidatos do DEM, PSD e PSDB, além da vitória antecipada de Bruno Reis (Salvador), sucessor do democrata ACM Neto.
2) “A esquerda não serve para governar”: as derrotas da esquerda em 2016 e 2018 não foram meramente eleitorais, e sim políticas. Em outras palavras: a esquerda foi tragada do poder com as máculas da corrupção, da irresponsabilidade fiscal e das propostas supostamente pouco realistas, de maneira que a percepção da população é de que a esquerda não serve para administrar, o que atrapalha a eleição para cargos no Executivo. Como explicou o cientista político Josué Medeiros, a mesma desconfiança comprimia a esquerda nos anos noventa, ao menos até que as gestões petistas em grandes cidades (como Luiza Erundina em São Paulo) provassem a tese contrária, a saber, de que a esquerda pode governar. Será disso que a esquerda precisará convencer os brasileiros em 2022, a começar pelo ótimo exemplo dos governadores do Consórcio Nordeste no combate a pandemia.
3) O egocentrismo dos partidos de esquerda: ao contrário das previsões otimistas de que a vitória de Bolsonaro aglutinaria os partidos de esquerda, a eleição ratificou a fragmentação e tudo se passa como se Ciro Gomes ainda não tivesse voltado de Paris. As disputas municipais serviram de laboratório ao projeto de aliança entre PDT e PSB, de olho na chapa presidencial encabeçada por Ciro em 2022, e as consequências foram catastróficas: a esquerda sequer avançou ao segundo turno no Rio de Janeiro ou mesmo em capitais de estados do Nordeste que deram a vitória para Haddad em 2018 (João Pessoa, Maceió, São Luís e Teresina). A dobradinha PDT-PSB vai disputar o segundo turno em outras quatro capitais (Aracaju, Fortaleza, Recife e Rio Branco) e o sucesso dessas pode inflacionar a megalomania cirense — o que, somada a relutância de Lula em admitir o fim da hegemonia petista, será a receita para o fracasso em 2022.