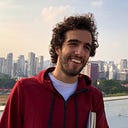Estados Unidos, China e União Europeia: a geopolítica do pós-pandemia
A última semana foi marcada pelos comunicados dos Bancos Centrais das duas maiores potências globais, Estados Unidos e China, sobre o aprofundamento das políticas monetárias expansionistas — em ambos os casos, visando o estímulo a atividade econômica.
A principal novidade coube ao FED que anunciou uma política heterodoxa e menos sensível a inflação nos próximos meses para reagir a brutal elevação do desemprego no país (3,6% em janeiro e atualmente em 10,2%), tal como queria Donald Trump de olho na eleição no final do ano. Já o diretor de política monetária do BC chinês, Sun Goefeng, reforçou que a política monetária será flexibilizada até que as taxas de crescimentos — que não são pequenas — sejam, enfim, retomadas. Embora bem abaixo dos últimos anos, a China deve garantir um crescimento de 1% neste ano e alcançar 8,2% já no ano seguinte, segundo a avaliação mais recente do FMI, ao contrário dos Estados Unidos cuja queda esperada é de 8%, seguida por uma recuperação de apenas 4,5% em 2021 — o que se explica em boa parte pela economia americana, diferente da chinesa, estar fortemente baseada em serviços (80%), o setor que mais sofreu com a pandemia.
Além disso, a vitória da China não têm sido apenas econômica, mas também, e talvez principalmente, política. O negacionismo dos Estados Unidos não apenas prolongou a agonia do vírus no país, como degenerou o papel de liderança internacional que o país cumpriu em crises anteriores, na mesma linha da relativização do papel norte-americano em organismos como Otan, Nafta e ONU. A China, por sua vez, foi o primeiro país assolado pelo vírus e, não menos importante, o primeiro a afastá-lo, assumindo a dianteira na diplomacia de auxílio às nações necessitadas. A nação de Xi Jinping se aproveitou das rotas abertas pelo seu One Belt, One Road — o programa de provisão de infraestrutura global pelo qual a China financiou obras de infraestrutura (estradas, portos, ferrovias) ao redor do mundo nos últimos anos — para fazer da pandemia um capítulo decisivo da emergência chinesa como uma potência global.
Olhando por outro ângulo, ao passo que a pandemia precipitou a passagem do mundo analógico para o digital, abriu-se uma janela abissal de oportunidades para investimentos em tecnologia que tende a beneficiar, ao menos em teoria, os Estados Unidos que detém uma estrutura produtiva de maior complexidade tecnológica. Para se ter uma ideia, a bolsa da tecnologia norte-americana, Nasdaq, está batendo semanalmente a máxima histórica e as Faang (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) valiam cerca de R$ 4 trilhões em janeiro e já beiram os R$ 6 trilhões. E assim, diante da pergunta será que a China desbancará os Estados Unidos como maior potência mundial?, Rodrigo Zeidan cuidou de responder: “Não nas próximas décadas, por uma razão em especial: os EUA, antes de serem a maior potência bélica, concentram os principais centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo.”
Não é demais dizer, no entanto, que os ataques de Donald Trump a Tik Tok e principalmente a Huawei sinalizam que nem mesmo os americanos estão seguros da própria supremacia. Ainda que os Estados Unidos estejam em vantagem na disputa tecnológica que envolve inúmeras frentes (celulares, robótica, carros elétricos, energias renováveis), a Huawei é a principal fornecedora de equipamentos 5G do mundo — seguida pela sueca Ericsson e a finlandesa Nokia. Essa questão é decisiva porque, como explica Peter Bloom, o 5G é um dos principais motores da 4ª Revolução Industrial já que dele depende: a) o aumento da capacidade da banda larga móvel (ex: realidade virtual nos celulares); b) a conectividade integral entre os mais diversos objetos (ex: Internet das Coisas); c) o aumento da confiabilidade e diminuição da latência das redes (ex: cirurgia remota).
Para frear a expansão das redes 5G da Huawei, Donald Trump se vale da mesma retórica protecionista que acarretou a sobretaxação das importações da China em 2019, desta vez acrescida de críticas aos riscos do compartilhamento de informações em redes chinesas. Japão, Austrália e Inglaterra, com efeito, são os três países que cederam às pressões norte-americanas e já proibiram a participação da Huawei na instalação da infraestrutura 5G do país. Não satisfeito, há duas semanas, Donald Trump proibiu que empresas de qualquer lugar do mundo forneçam microchips e placas de circuito avançado para a Huawei sem uma licença prévia dos Estados Unidos. Como explica Uallace Moreira, “os EUA podem fazer isso por causa do poder que as empresas americanas têm na indústria global de semicondutores — praticamente nenhum chipset no planeta pode ser feito sem equipamento ou software feito nos EUA”.
Outro foco da disputa entre Estados Unidos e China é a Organização Mundial da Saúde (OMS), onde Donald Trump está manobrando para reformar a instituição e minar a influência chinesa, representada pela liderança do etíope Tedros Adhanom que chegou ao posto de diretor-geral com a ajuda da China. Se é certo que a pandemia reiterou as exigências de uma ordem internacional agregadora e ciente da interdependência global entre clima, economia e política, não há razões para imaginar que qualquer uma das duas potências estejam dispostas a moderar a disputa em nome do coletivo — o que as forçaria a assumir os custos da descarbonização e da prevenção contra outras pandemias globais, seja sanitárias ou financeiras. Em lugar disso, os Estados Unidos trocam as instituição multilaterais pelos acordos bilaterais e a retórica anti-globalização, enquanto a China não demonstra empenho em garantir e aprimorar o Estado de Direito, a proteção da propriedade intelectual e o combate a práticas lesivas ao comércio internacional como dumpings e manipulações cambiais. Nas palavras de Bruno Latour, o tempo em que vivemos “não é pós-verdade, é pós-política — isto é, literalmente, uma política sem objeto, já que rejeita o mundo em que habita”.
Uma boa notícia vem da União Europeia que revelou uma coesão surpreendente — sobretudo após o Brexit — e aprovou um acordo histórico de endividamento coletivo que beneficia os países mais pobres do bloco e sinaliza uma união fiscal inédita. A chanceler alemã, Angela Merkel, foi a protagonista da vitória ao colocar o pacote embaixo do braço e negociar a aprovação junto aos conservadores do Deutsche Bank e os líderes autocratas da Hungria e Polônia. Atuando ao lado do outro grande responsável pelo acordo, o francês Emmanuel Macron, ambos reeditaram a aliança franco-alemã que já protagonizou feitos importantes desde os anos 50.
Sem abrir mão do otimismo, resta saber se os líderes europeus almejam ultrapassar o papel de coadjuvante nas discussões internacionais e, quem sabe, mediar a relação entre China e Estados Unidos — o que pode ser motivado pela crescente força dos Partidos Verdes no Parlamento Europeu e a possível vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. Por mais alarmante que seja — ou talvez justamente por isso — é bom lembrar que o percurso causal até a 2ª Guerra Mundial começou pela saída da 1ª Guerra sob “a falta de pelo menos um poder internacional capaz de liderar a solução da crise com financiamento e ordenamento de decisões — o Reino Unido estava em decadência e os Estados Unidos eram então isolacionistas”, como lembrou Vinícius Tores Freire em livro recém-lançado.
Nos anos seguintes a COVID-19, a depender das consequências geopolíticas ainda turvas, teremos a exacerbação de tensões sociais anteriormente existentes (como as crises migratórias e as manifestações à la gilets jaunes). Ou, no melhor dos casos, a reedição de alianças internacionais que reprisem algumas das nossas vitórias na saída da 2ª Guerra Mundial — muito embora, ao menos por ora, ainda seja difícil adivinhá-las ou prevê-las com esperança.