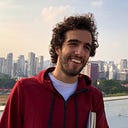O Brazil não merece o Brasil
A vacina deveria ser um momento de júbilo e festa. E será. Está sendo. Pois a vacina é a prova de que algo foi aprendido. Uma resposta coletiva a cada morte individual. É a vacina que nos reconcilia com a vida e o destino comuns. Não há estupidez que supere nosso desejo de recomeçar juntos.
O presidente Jair Bolsonaro, ainda assim, bem que tentou: a politização da Anvisa; a discussão antecipada sobre a obrigatoriedade da vacina; a propaganda de cloroquina em detrimento da vacina. Quando a enfermeira Mônica Calazans recebeu a primeira dose da vacina no país, 35 milhões de pessoas já estavam imunizadas em 57 países.
Para ser mais exato, se não fosse pelo presidente, certamente estaríamos entre os líderes da vacinação. Afinal, condições nós temos: a indústria farmacêutica e a estrutura logística são herança do Programa Nacional de Imunização (PNI), criado pelos militares nos anos setenta e baseado no princípio de combater doenças por meio da vacinação. Uma vez fortalecido pela criação do SUS e instrumentos de marketing como o Zé Gotinha nos anos oitenta, o êxito do programa se traduziu na erradicação da varíola e da poliomielite, além da redução drástica dos casos e mortes do sarampo, da rubéola, do tétano, da difteria e da coqueluche. Não por acaso, durante a última pandemia, o Brasil foi o país que mais vacinou contra H1N1 pelo sistema público.
Em vez de prolongar essa narrativa de sucesso no presente, Bolsonaro agiu como o governo brasileiro fizera na campanha de vacinação contra a varíola em 1904. Ali, em meio ao movimento crescente de adesão à vacina, a ação desastrada do governo federal de regulamentar a “obrigatoriedade” resultou na chamada Revolta da Vacina. Desta vez, agindo de modo igualmente desastrado, Bolsonaro recusou os saberes acumulados em nome do acirramento da polarização entre patriotas e inimigos da nação, cloroquiners e adeptos da vacina chinesa.
Bolsonaro quer preservar o país cindido e condenado a si mesmo. País em que os erros recentes não inspiram aprendizado ou uma renovação da fé em valores fundamentais, mas tão somente a perpetuação do niilismo, do fatalismo e do ressentimento que resultaram em sua eleição. Só um país sem cais justifica um governo do caos. De outro modo, jamais nos contentaríamos com tão pouco, por isso Bolsonaro depende da sustentação da crença na impotência de nossa própria força. Em outras palavras: Bolsonaro precisa não só da anormalidade institucional, mas de um país que desconfia de si mesmo. Daí sua pulsão em descaracterizar tudo pelo qual somos reconhecidos: o carnaval; a cultura indígena; as religiões de matriz africana; a Amazônia; as urnas eletrônicas; o Enem; o Programa Nacional de DST e Aids; o Museu Nacional; os 27 negros excluídos da lista de personalidades da Fundação Palmares.
O historiador Luiz Antônio Simas insiste que “o projeto de normatização deste Brasil de horrores, para que seja bem-sucedido, precisou de estratégias de desencantamento”. É assim que Bolsonaro opera: para descarnavalizar; para silenciar (como também faziam a tortura e o desaparecimento); para descolar o Brasil em relação aos seus próprios êxitos; para identificar em nossas conquistas tão somente o que não tolera no outro e jamais um destino comum. O que sente pelo Brasil é uma idolatria (“Brasil acima de tudo”), porém sem amor. “O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo”, afirmou em visita aos Estados Unidos. “Nós temos é que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa”.
Para além desse país reduzido à ódio e desprezo, há um outro Brasil. Se ainda não sabem onde encontrá-lo, basta olhar a imprensa que dia e noite desmascarou as mentiras do presidente sobre a pandemia; o corpo regular de agentes públicos, munidos de mandato fixo por lei, que garantiram a preservação das políticas públicas a despeito do Executivo; as universidades estaduais e federais que sobreviveram aos cortes de verbas e estão desenvolvendo vacinas próprias; em especial, o Instituto Butantã e a Fiocruz, centros que nasceram da luta vitoriosa contra a peste bubônica na virada para o século XX, e não mediram esforços para rastrear vacinas, estabelecer parcerias, negociar contratos com garantia de transferência tecnológica e, enfim, estão prontas para a produção local das vacinas.
Falar do país com orgulho não se resume a uma defesa ufanista do nacional, tampouco da renovação da espera interminável pelo “país do futuro”, mas é a crença de que é possível criar em meio às contradições do pais. Estamos diante do desafio de resgatar certo otimismo — entendido como a autoconsciência da nossa natureza e potência — cuja ausência alimenta e empodera o bolsonarismo. Mais uma vez com Simas: “Não basta colher a folha para fazer o remédio; é preciso saber cantá-la e encantá-la”.
A vacinação começou, mas a segunda onda está aí. A imunização não será imediata. O auxílio emergencial acabou, o desemprego explodiu. Será preciso vencer a crise econômica. Semana passada, Bolsonaro afirmou que “estamos quebrados, eu não consigo fazer nada, chefe”. Ele não sabe, mas deveria saber que as políticas anticíclicas de Vargas fizeram com que o Brasil saísse, de maneira acelerada, da crise de 1929 — não à toa Roosevelt ter dito que “duas pessoas inventaram o New Deal: o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos”.
A sua ignorância, no entanto, não abole a nossa memória. A sua intolerância não canta tão alto como a nossa alegria. A sua indiferença não aniquila as nossas diferenças. O seu Brazil não merece o Brasil. O nosso. O único possível.