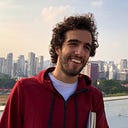O golpe fracassado e o novo normal do governo Bolsonaro
Assim que a pandemia eclodiu, vários diagnósticos frisaram que estávamos diante de um duplo perigo: além do vírus, o endurecimento de regimes democráticos a pretexto de contê-lo. Através de líderes que nunca disfarçaram as vocações autoritárias, a pandemia serviria de álibi ao fechamento das fronteiras e a concentração de poderes no Executivo, inaugurando uma nova fase do processo global de erosão da democracia.
Olhando o exemplo de sempre, a Hungria de Viktor Órban, o parlamento húngaro logo aprovou um estado de emergência que garantiu poderes ao primeiro-ministro de governar via decreto por tempo indeterminado.
Para entender o caso brasileiro, é jus indagar porque Bolsonaro não seguiu o exemplo de Órban. E o motivo é simples: o seu projeto autoritário não estava avançado como o húngaro. Caso pressionasse o Legislativo e o Judiciário pelas vias institucionais, Bolsonaro seria derrotado — basta lembrar que sequer foi capaz de aprovar o excludente de ilicitude para os policiais, não seria agora que obteria um excludente para si próprio.
Bolsonaro, então, não agiu em nome da pandemia, mas dobrou a aposta: agiu contra a pandemia. Por isso criticou a “ditadura” imposta pelos governadores. Falou em armar a população contra os chefes municipais. Atacou as decisões do STF que exigiam os protocolos da OMS. Acima de tudo, tentou criar o caos social que forçaria os militares a intervirem.
As manobras foram várias e incluem desde o gabinete do ódio até o acampamento armado dos 300 de Sarah Winter. O presidente discursou em carro de som, sobrevoou de helicóptero e andou de cavalo em atos que pediam o fechamento dos poderes. O constitucionalista Ives Gandra defendeu a tese de que o art. 142 permitia o acionamento das Forças Armadas pelo presidente. “A ruptura democrática não era questão de se, mas quando”, disse Eduardo Bolsonaro.
Os militares é que não cederam ao golpismo — não por boa vontade ou exemplo republicano, inclusive o general Heleno ameaçou publicamente o STF cujas decisões poderiam surtir “consequências imprevisíveis”. Os generais, na verdade, não estariam dispostos a pôr em perigo sua reputação para embarcar na aventura bolsonarista, como defendeu o historiador José Murilo de Carvalho. Naquela altura, três movimentos simultâneos ressequiam o governo: 1) a saída de Moro; 2) o inquérito das Fake News; 3) o aumento da desaprovação do presidente — e consequentemente dos militares, basta notar que os brasileiros que apoiam militares na vida política caiu de 60% um ano atrás para 43% no auge da crise. Foram dias em que o impeachment não era questão de se, mas quando.
Embora o risco de impeachment tenha acelerado a vinculação entre o governo Bolsonaro e o Centrão, a aproximação não se deu do nada. A montagem de uma base parlamentar já estava nos planos do ministro da Secretaria de Governo, general Ramos, desde que a tarefa de articulação política foi transferida da Casa Civil para a sua pasta em meados de 2019. O objetivo da mudança foi justamente renovar a articulação política para melhor o desempenho do governo no Congresso, já que Onyx sequer fora capaz de trazer o próprio partido para a base do governo.
O diagnóstico do general Ramos era de que os os militares, por si só, não eram capazes de aprovar projetos de lei em bloco ou organizar as alianças eleitorais. Em outras palavras: por mais que integrassem a base do governo, os militares não eram um partido.
Por outro lado, a aproximação com o Centrão esbarrava numa questão nada trivial: as redes bolsonaristas linchavam a “velha política” com ferro e fogo, e não à toa já tinham derrubado dois ministros que tentaram aproximações parecidas, Gustavo Bebianno e general Santos Cruz..
A novidade é que a popularidade do presidente está em queda, Olavo cada vez mais isolado e o inquérito das Fake News desarticulou boa parte das milícias virtuais. Assim se formou a tempestade perfeita para a saída de olavistas como Fábio Wajgarten (Comunicação) e Abraham Weintraub (Educação), ao mesmo tempo que o Centrão se tornaria peça-chave no novo arranjo governista.
Os militares, no entanto, não abrem mão de exercer tutelas e vetos. Em primeiro lugar, o diálogo é principalmente com o Centrão nutella — representado por Arthur Lira (PP-AL) — e não o Centrão hard de Roberto Jefferson (PTB-RJ). O novo ministro da Comunicação, Fábio Faria (PSD-RN), é chefiado de perto pelo próprio general Ramos. O Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, trabalha ao lado do capitão Tarcísio (Infraestrutura). E o próprio Guedes cedeu e está preparando R$ 30 bilhões em créditos extraordinários para viabilizar os gastos requeridos pelo general Braga Netto.
A prisão de Queiroz foi a gota d’água que selou o recuo de Bolsonaro e o protagonismo dos militares. Para se ter ideia, para além da propaganda de cloroquina, faz um mês que Bolsonaro não critica nenhum dos poderes — tempo suficiente para que sejamos atraídos a virar a página, dizer que o pior já passou. A PGR fez as pazes com o STF. Rodrigo Maia trocou o conflito aberto pela postura colaborativa. Como resumiu o presidente, Paulo Skaf: “Sentimos um clima de pacificação e harmonia entre os chefes dos três Poderes. É disso que o Brasil precisa para iniciar a reconstrução com uma agenda de reformas e futuro.”
Se é certo que só não ingressamos em um regime autoritário porque o golpe fracassou, não é menos certo que o projeto dos militares pode estabilizar o governo, e o resto da história nós conhecemos. O trabalho de destruição das instituições será retomado, talvez ainda mais certeiro, e numa próxima crise teremos um Bolsonaro ainda mais preparado para cumprir seus desígnios ditatoriais. Antes disso, cabe a nós derrotá-lo politicamente, caso contrário o futuro pode ser húngaro.