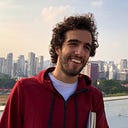O pós-neoliberalismo de Biden e a Nomadland de Trump
Dos filmes concorrentes ao Oscar, nenhum me chamou tanta atenção como Nomadland. O longa de Chloé Zhao apresenta o périplo da protagonista (estrelada por Frances Mcdormand) ao longo das estradas americanas onde trabalha em diferentes empregos, quase sempre temporários. Assim o filme reconstrói o imaginário coletivo das highways, antes símbolos da vida moderna por onde trafegavam os automóveis da indústria nacional, tanto quanto da middle class outrora empregada nessas mesmas indústrias e agora submetida a empregos precários. Em lugar da romantização da paisagem própria aos filmes de western ou road movies, acompanhamos os encontros e desencontros da personagem com vários americanos na mesma situação, muito dos quais perderam suas casas na crise de 2008 e vivem em trailers como nômades. Muito dos quais, melhor dizendo, americanos do centro-oeste e das regiões assoladas pelo fechamento da velha indústria norte-americana que abandonaram o Partido Democrata e elegeram Donald Trump em 2016.
Quatro anos depois, Trump seria derrotado numa eleição tornada plebiscito sobre a sua condução na pandemia. O trumpismo, no entanto, reiterou sua força em quase 75 milhões de votos. Já o ex-presidente não perdeu tempo e anunciou sua candidatura nas eleições presidenciais de 2024. O que Joe Biden tem feito para construir um governo não apenas menos ruim que o anterior, e sim radical a ponto de arrancar as raízes do trumpismo?
Como primeiro objetivo, o governo Biden espera derrotar a pandemia o mais rápido possível para que o sucesso engendre a renovação da maioria democrata na eleição parlamentar do próximo ano. Para isso, o principal instrumento de Biden é o chamado Covid Relief Plan, um megapacote econômico de quase $2 trilhões que combina o investimento em vacinas com a distribuição de cheques para as famílias de baixa renda — como as várias que assistimos em Nomadland — assegurando que essas se protejam do vírus, assim como recuperem o poder de consumo para a reabertura do comércio. O pacote é bem mais robusto que o proposto pelo ex-presidente Barack Obama logo após a crise de 2008 e cujos más resultados levaram ao fracasso dos democratas na midterms de 2010. “Neste estágio inicial, Joe Biden mostrou um senso de propósito mais claro do que talvez qualquer um desde Ronald Reagan”, escreveu a The Economist.
No mais, Biden recém-lançou outro megapacote, desta vez em infraestrutura, voltado a investimentos em estradas, pontes, aeroportos, portos e transportes públicos (não apenas em encraves urbanos democratas, pois também em áreas rurais republicanas). Inclui ainda créditos e subsídios para a indústria, além de verbas para pesquisa e desenvolvimento, em especial relativo ao meio-ambiente. O pacote totaliza outros $2 trilhões em gastos públicos, sendo que distribuídos ao longo dos próximos oito anos, o que esclarece o seu objetivo principal de prover a sustentação econômica, social e política do desenvolvimento americano no médio prazo (ou o tempo suficiente para desmobilizar o trumpismo). Nas palavras de Biden, “nós vamos investir na América de uma forma que não investimos desde que construímos as rodovias interestaduais”, as mesmas em que os personagens de Nomadland trafegavam. Restaurá-las, afinal, não facilitará apenas o fluxo dos trailers, mas a própria impulsão da economia e da indústria americana a reboque do Estado como há muito não ocorria.
Em artigo recente, o economista Dani Rodrik definiu o plano de Biden como pós-neoliberal porque representaria o fim do casamento entre a economia americana e a perseverança no livre mercado como meio primordial de atingir os objetivos, inclusive os social-democratas (saúde, educação, moradia). Segundo o professor de Harvard, “o plano de infraestrutura provavelmente será um divisor de águas para a economia americana, sinalizando claramente que a era neoliberal, com sua crença de que os mercados funcionam melhor e sozinhos, ficou para trás”. Essa crença neoliberal, deixemos claro, traduziu-se na desintegração do Estado simbolizada em privatizações, cortes tributários e enxugamento dos programas sociais, mas preservando certas funções do mesmo Estado como o encarceramento em massa e o papel de garantidor de última instância das instituições financeiras. O plano de Biden, ao contrário, resgata a importância do Estado segundo a tradição norte-americana de investimentos públicos financiados com impostos progressivos. “Duas coisas tão americanas como a apple pie”, como lembrou o prêmio Nobel Paul Krugman.
Durante a presidência de Donald Trump, o ex-presidente concentrou esforços na trincheira monetária onde pressionou o FED, bateu boca com Jerome Powell e, enfim, arrancou a redução dos juros. Joe Biden, por sua vez, está fazendo o mesmo na política fiscal em relação ao Congresso (apenas o plano da COVID foi aprovado até então), mas seus pacotes envolvem muito mais do que o mero aumento dos gastos públicos. Está em jogo uma renovação da própria concepção de ação pública — essa, sim, pós-neoliberal — porque, por um lado, contraria os dogmas neoliberais que dominaram a esfera pública nos últimos anos (como a ideia de que a tributação progressiva dissuade os ricos de investirem ou de que os programas sociais incentivam a vadiagem). Mas não cai, por outro lado, numa versão centralizadora de ação estatal que desconsidera a colaboração entre os setores público e privado, além da participação de stakeholders como sindicatos e grupos comunitários, para a consumação dos objetivos públicos.
Num país em que a última reforma social relevante foi o Obamacare, a missão do governo Joe Biden não é outra senão provar que a democracia é capaz de superar os impasses e construir o futuro. Assim como Franklin Roosevelt espalhou eletricidade nas áreas rurais e Eisenhower projetou a rede de estradas por onde circulam os personagens de Nomadland, Biden almeja se tornar o presidente que forjou um país com carros elétricos, emissão zero de carbono e menos desigualdade social. Refletindo sobre a sua relação com os Estados Unidos em ensaio autobiográfico, o escritor Philip Roth contou que “o sentimento coletivo de ser a América (…) adveio não apenas de chauvinismo triunfalista, mas de uma avaliação realista da empreitada por trás da vitória de 1945, uma proeza em termos de sacrifício humano, esforço físico, planejamento industrial, gênio administrativo e mobilização laboral e militar.” É dessa capacidade de transformação propriamente dita que depende a reconquista dos americanos e nômades que sucumbiram ao trumpismo.